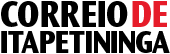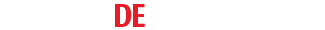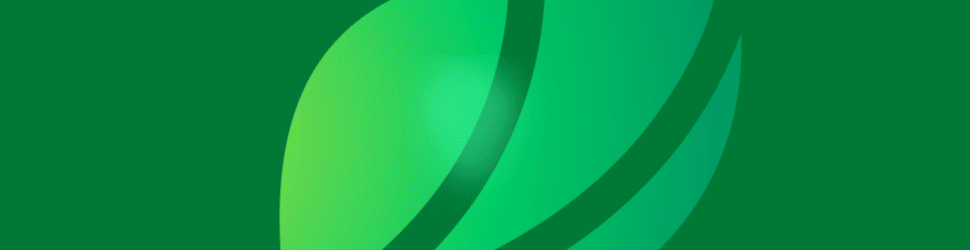Por: Daniel Paulo de Souza
Fabulações transformadoras:
É latente que as narrativas de ficção conseguem, na urdidura de suas tramas, expor à consciência do leitor uma experiência que o faz reconhecer-se nas ações. E para esse leitor, conforme explica Paul Ricouer, há dois níveis de compreensão crítica possíveis: o primeiro centrado na “configuração da obra”, o segundo na “visão de mundo” e na “experiência temporal” que essa configuração “projeta para fora de si”. Tanto uma leitura quanto a outra, complementares e necessárias para a apreensão da essência do discursivo, permitem descortinar a riqueza e a constituição singular de cada texto.
De forma totalmente envolvente, o romance “Mrs. Dalloway”, da escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), articula sutilmente ambos os níveis ao apresentar um enredo aparentemente simples, mas desdobrado em conflitos oriundos da interioridade de diferentes personagens. A obra narra um dia na vida de Clarissa Dalloway, a protagonista ocupada com a organização de uma festa que dará à noite. Cronologicamente, tudo começa de manhã, quando ela própria decide sair para comprar as flores, e termina com a despedida dos convidados e o encerramento da recepção na qual comparecem ilustres personalidades da sociedade de Londres. Nesse ínterim, é possível presenciar um alargamento da história central à medida que uma sequência de perspectivas psicológicas passam a configurar as nuances desse dia.
Como parte da marca literária dessa brilhante autora britânica, imediatamente ganha destaque o “fluxo de consciência”, uma técnica de fabulação moderna, cuja construção possibilita livre acesso à complexidade do pensamento dos personagens. Dessa forma, o mote do livro, da preparação da festa às andanças pelas ruas londrinas em sua trivialidade peculiar, assegura também o passado e o faz elemento primordial na extensão do tempo objetivo contado. O intervalo total da narrativa, segundo Ricoeur, “apesar de sua brevidade, parece rico de uma imensidão implicada”, visto que cada discurso interior amplifica por dentro “o instante do acontecimento de pensamento”. Isso significa que cada digressão mental é um afastamento do ponto temporal da ação e, simultaneamente, a chave da unidade do romance.
Em Westminster, logo cedo, Clarissa saiu para comprar flores. Trouxe à recordação a imagem de Peter Walsh, velho amigo e antigo pretendente, e as conversas que mantinham quando jovens. Ela insistia em dizer a si que “amava a vida” e, embora admitisse que qualquer um fosse “capaz de recordar”, gostava do “aqui, agora, diante dela”. Ao atravessar as ruas, refletiu muito sobre si, reforçou a admiração que tinha por Lady Bexborough e se encontrou casualmente com Hugh Whitbread, um amigo de infância.
Na floricultura Mulberry, é surpreendida pelo estampido da passagem do carro da realeza e pelo sobrevoo do aeroplano que deixava letras enigmáticas no céu. Na travessia, estava Septimus Warren Smith, veterano de guerra que sofria de debilidade emocional e de alucinações responsáveis por despertar nele um desejo de se matar. Visivelmente abalada, Lucrezia, a esposa de Septimus, conduzia-o pacientemente pela rua e tentava amainar-lhe as irrupções de pavor a que o marido se lançava. Ao longe, Maisie Johnson, jovem recém-chegada a Londres e espantada com o aspecto do casal Smith a quem pedira informações, sentia-se aflita no meio dos transeuntes ao passo que era julgada a distância por Mrs. Dempster e seu lamento pela vida dura e pela perda das rosas.
Nessas relações subjacentes e casuais cruzadas, o universo íntimo da consciência vem à superfície e viabiliza um enlace de monólogos que embaça o real e lhe encurta a curvatura para alargar o espaço já profuso da subjetividade. Cada instante, por mais breve que seja, estende-se na memória, redimensiona-se, num procedimento que David Daiches considera um dos mais avançados na arte de Virginia Woolf, pois permite tecer, de modo concomitante, o que Ricoeur chama de “o mundo da ação e o da introspecção”.
Para o desenvolvimento da trama em “Mrs. Dalloway”, esse mundo da interioridade, verdadeiro em sua essência, ressignifica o real e lhe sustenta as cores. A insatisfação de Clarissa, por exemplo, por não ser convidada por Lady Burton para o almoço só é sentida quando manifestada no campo subjetivo. Da mesma forma ocorre com o amor que nutria pela amiga Sally Seton, sentimento puro e íntegro, diferente “do que se sente por um homem”, ou com as convicções acerca do comportamento e da personalidade de Miss Kilman, a quem acusava de corromper a formação da filha Elizabeth. Nas palavras de James Hafley, a autora faz uso de um dia comum como unidade “para mostrar que não existe algo como um dia comum”.
Peter Walsh, depois de retornar da Índia, na longa reflexão que pratica enquanto anda pelas ruas e descansa em um banco no Regent’s Park, chega a dizer, talvez motivado por seu ateísmo, que “nada existe fora de nós além de um estado mental”. Essa espécie de renúncia das coisas mundanas é atrelada a uma característica que a própria Virginia Woolf vê em si mesma e a descreve em seus “Diários”: “insubstancializo”, ela diz, “por desconfiar da realidade – de sua banalidade”. Essa “insubstancialização”, de acordo com Alan Pauls, não é “uma síndrome de falta de realidade”, mas um princípio de “crítica” a respeito dela e dos consensos culturais estereotipados que ela muitas vezes representa. Por esse motivo, o processo de “insubstancializar” significa desmantelar esse tecido de convicções preconcebidas e evidenciar que a realidade, tal como a reconhecemos, “pode não ser muito mais que um jogo de aparências”.
Marcante na história, sobretudo pelas badaladas em “círculos plúmbeos” do Big Ben a ditar o ritmo da ação, a experiência do tempo costura esse desfile sutil de caracteres sob o símbolo moderno do inacabado. Como salienta Hélio Salles Gentil, os personagens estão em “busca de si” num jogo de identificações “em que múltiplas perspectivas se cruzam”. Nessas inúmeras vozes que habitam o texto, Pauls chama a atenção para a coexistência de “olhares heterogêneos” e contrastantes, afinal, como afirmou Sally Seton, não sabemos muito das pessoas mais conhecidas, visto que “somos todos prisioneiros”. Nesse sentido, inconteste é a oposição entre Clarissa e Septimus.
Clarissa Dalloway sentia-se “jovem e velha”, uma “faca afiada”, mas não muito inteligente; “não sabia nada” e, ao mesmo tempo, tinha o “dom de conhecer as pessoas”; era rasa e também astuta, uma típica representante da classe dominante. Já Septimus Warren Smith, o pária, tinha o cérebro perfeito, mas “não conseguia mais sentir nada”. Perdera a noção da realidade, possuía um olhar vago e via mortos em todos os lados, principalmente o amigo combatente Evans. Logo, para ele, a falha devia estar no mundo, embora Sir William Bradshaw tenha dito que não existe loucura, mas “ausência de proporção”. Desprovido de sentimentos, pensava não haver bondade nos homens, nem fé ou caridade, somente o que “serve para aumentar o prazer momentâneo”. Com isso, desceu os degraus rumo ao abismo.
Em “Mrs. Dalloway”, o singelo gesto da vida jamais seria pequeno, pois implica em si a vastidão dos olhares que o compõem. Em Virginia Woolf, conforme pontua Alan Pauls, tudo tende a transformar-se em uma perspectiva, já que tudo ganha voz, consegue ver e é dotado de fala. Mesmo a interseção inusitada do destino desmedido de Septimus à trajetória de Clarissa Dalloway naquele findar de festa não é acidental, mas parte “daquele poder que confere o sabor supremo à existência”.