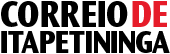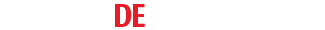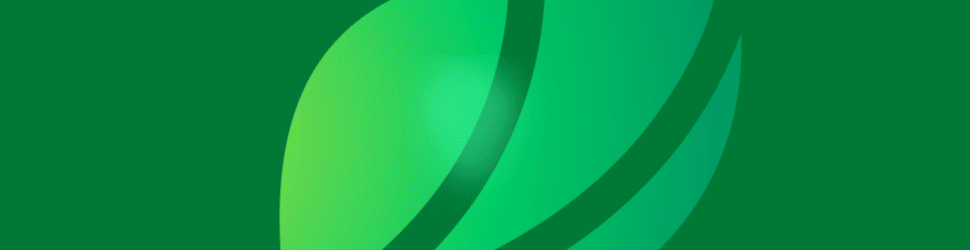Por: Daniel Paulo de Souza
Fabulações transformadoras
O casal John Stuart Mill e Harriet Taylor Mill, no ensaio “The subjection of woman”, publicado em plena era vitoriana, critica uma ideia ainda persistente à época: a da submissão feminina, de cujo esteio provinha o entendimento de que as mulheres, por sua natureza, tinham o dever de “viver para os outros” e de “fazer completa abnegação de si mesmas e não ter vida além de seus afetos”. Segundo os autores, esse histórico equívoco de pensamento representa uma atitude genuinamente escravocrata na medida em que as subordina às deliberações masculinas e retira delas o direito à liberdade, à vontade própria e à autogovernança.
Parte dessa crítica a uma estrutura social discriminatória também está presente, com sutileza de linguagem e de estilo, na obra “Orgulho e Preconceito” (1813), da aclamada escritora inglesa Jane Austen (1775-1817). Embora esse romance se encaixe, conforme aponta Vivien Jones, “nos padrões da ficção popular romântica” por ser focado na obtenção de um bom casamento, na felicidade proporcionada pela ascensão de classes e na figura de um herói “objeto ideal do desejo” na fantasia coletiva, há no enredo elementos para uma reflexão moral dos comportamentos e dos papéis sociais, além de um espaço contundente de valoração da autonomia, da racionalidade e da sensibilidade feminina.
A narrativa começa, inclusive, com uma premissa para essa análise, cuja essência é o retrato de uma sociedade e de uma época: “É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa”. Para a maioria das personagens de “Orgulho e Preconceito”, essa máxima universal enseja a conclusão de que esse homem, independente de suas intenções ou sentimentos, é “por direito” considerado “propriedade” da filha de uma das famílias da vizinhança a que ele chegar, portanto todo o esforço disponível deve ser centrado em conquistá-lo como recompensa convencionada. Quando o senhor Bingley, um rico solteiro de “boa aparência e modos cavalheirescos”, alugou Netherfield Park, nas proximidades de Longbourn, causou enorme expectativa na região, especialmente na senhora Bennet, a mãe de cinco moças a quem ansiava conseguir casamentos financeiramente compensatórios.
De acordo com Tony Tanner, esse juízo decorre do fato de as heroínas de Jane Austen, apesar de personalidades “atemporais”, viverem certo momento histórico, entre o final do século XVIII e início do XIX, no qual uma cultura específica de “aspiração social e de consumismo” balizava a felicidade pessoal. Retrato disso é justamente a descrição da senhora Bennet, “uma mulher de pouca percepção, escassa instrução e dona de duvidoso temperamento”, ocupada com a tarefa de casar as filhas, e das irmãs mais novas Lydia e Catherine Bennet, moldadas por essa ambição marital e, em detrimento disso, vistas como “ignorantes, ociosas e fúteis”. Ambas só estavam interessadas nos bailes, nas vestimentas e nos passeios aos acampamentos das milícias a fim de se relacionarem com jovens oficiais.
A trama do romance percorre jantares e recepções promovidos com a intenção de aproximar figuras ilustres e desejáveis e de estreitar relações com potenciais pretendentes. A senhora Bennet convidou Bingley para um jantar na esperança de que ele desposasse a primogênita Jane. Nesse encontro, começaram a ganhar destaque os protagonistas, Elizabeth Bennet, a segunda irmã mais velha, e Fitzwilliam Darcy, um distinto homem “alto e bonito de nobre”, proprietário das graciosas terras de Pemberley, mas dono de um semblante “hostil e desagradável” que transparecia um exacerbado orgulho. Após esse dia, todos voltaram e se ver com frequência em reuniões rotineiras em Longbourn, Meryton e no grande baile em Netherfield. Nelas, evidenciou-se tanto o crescente afeto entre Jane e o senhor Bingley quanto o estranhamento entre Elizabeth e Darcy.
Sem dúvida, é relevante ao enredo a ambientação aristocrática, em tese a de uma classe média em ascensão ligada ao comércio e a profissionais cuja renda lhes permitia adquirir propriedades e antigos títulos de nobreza. Tal contexto favorecia às casas “unir riquezas” por meio do dote e garantir às partes suas preciosas receitas em libras anuais, como tentou fazer o Sr. Collins, herdeiro de Longbourn e arrendatário da paróquia de Hunsford, ao pedir a mão da prima Elizabeth e, posteriormente, ao lograr sucesso casando-se com Charlotte Lucas. Na prática, não se pode negar que essa motivação ajuda a fomentar a atmosfera romântica a que a obra visa, sobretudo por atingir leitores que, à época, projetavam para si o conforto e o prazer dos ostentosos salões de festas.
A realização emotiva, por sua vez, é o estofo narrativo implicado nessa ambientação. Para tanto, “Orgulho e Preconceito” investe no desenvolvimento de seus personagens e nos conflitos que revelam as peculiaridades arquetípicas de cada um. Para mencionar alguns exemplos, basta ressaltar as consequências desastrosas das mentiras sedutoras em que se apoia o inescrupuloso Wickham para perpetrar seu plano de uma união rentável, ou a atuação, por capricho, das irmãs Bingley para impedir o relacionamento do irmão com Jane em virtude de a senhorita Bennet pertencer a uma família considerada inferior.
Tudo, porém, gravita em torno da personalidade de Elizabeth e das transformações pelas quais ela e o senhor Darcy passam na história. Lizzy, como era chamada, é, segundo Vivien Jones, uma heroína “articulada e de pensamento independente”, astuta, franca e atraente, que encarna uma “feminilidade” à revelia da passividade e da vulnerabilidade tipicamente romântica. Sendo assim, ela é a antípoda das mulheres representadas na obra, é racional e não subserviente à ordem social vigente e às exigências por esta impostas. Munida de “capacidade de percepção intuitiva”, em referência à expressão de Stuart Mill e Harriet Taylor, ela está à frente de seu tempo e demonstra isso em diferentes circunstâncias.
Decidida, Lizzy ignora os juízos contra ela formulados pela senhorita Bingley, de que possuía “modos repreensíveis”, “falta de estilo”, “orgulho” e “impertinência”. Ignora também, num primeiro momento, a reputação do senhor Darcy por causa de um julgamento superficial que ele fez dela quando se conheceram, reputando-o como antipático, orgulhoso e presunçoso. Como resultado, e convicta de seus princípios, rejeita o pedido de casamento dele, assim como havia feito antes com o Sr. Collins, sem preocupar-se com fortunas ou uma futura posição como a senhora de Pemberley, porque não considerava a “felicidade conjugal” um arranjo conveniente e meramente contratual, mas uma união vantajosa que permitia a ambos um crescimento mútuo baseado nas virtudes compartilhadas. Por fim, enfrentou a audácia e a forte influência de Lady Catherine e afirmou-lhe, sem medo, que a senhora De Bourgh não tinha o direito de interferir em seus assuntos.
Talvez em decorrência de tanta robustez de caráter, Elizabeth foi capaz de rever as suas convicções quando descobriu em Darcy mais do que as primeiras impressões revelaram e mais do que as inverdades de Wickham construíram. Depois de aceitar a transformação dele e a própria, enfim ambicionou um enlace por amor e entregou-se a um final feliz em consonância com os anseios de sua sociedade.
Nesse sentido, como afirma Johanna M. Smith, Jane Austen, ao referir-se não apenas a “paradigmas hegemônicos”, como a masculinidade e as relações conjugais socialmente engendradas, mas também a comportamentos progressistas, como o de Elizabeth, abre espaço para o leitor explorar a narrativa a partir de percepções ideológicas opostas e “pesar, discutir, contrariar ou aceitar” por si mesmo as possibilidades do texto. De um lado, há a crítica de Rachel M. Brownstein de que Austen “retratou esnobes e os encorajou ao esnobismo”, promulgando valores específicos de classes e de gêneros; de outro, a defesa feita por Margaret Kirkham de que a autora inglesa deu a suas heroínas a oportunidade de afirmar um “feminismo iluminista” e de atuar como “agentes morais independentes”. De qualquer forma, nenhuma sentença poderá ser definitiva, já que pesará, em última instância, a sensibilidade, a elegância e a racionalidade com as quais Jane Austen trata a vida.