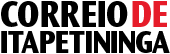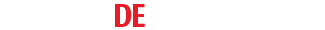Daniel Paulo de Souza
A realidade histórica e social por vezes carrega em si uma experiência cruel e sofrida que a percepção do homem, lançada no alheamento cotidiano, normalmente não apreende ou não dimensiona como deveria. Para o sujeito habituado ao distanciamento indiferente ou à suspensão da intencionalidade reflexiva, a existência necessita de respostas objetivas e resume-se à monotonia circundante capaz de limitar qualquer sentido que ultrapasse as suas fronteiras. A própria obra de arte, se submetida a esse imediatismo prático, esvazia-se, porque, segundo Roland Barthes, “numa sociedade alienada, a literatura é alienada” e não liberta o mundo. Antes, torna-se o signo “dessa opacidade histórica na qual vivemos subjetivamente”.
Nessa esteira, como aponta Pierre Bourdieu, a efetivação da obra de arte depende não somente do “campo artístico”, mas também de um “hábito cultivado”: se, por um lado, há a obra como “objeto simbólico dotado de sentido e de valor” e constituído pelo “olho do esteta”, por outro, para apreendê-la, deve haver “espectadores dotados da disposição e da competência estéticas que ela exige tacitamente”. Dessa forma, a significação de qualquer trabalho artístico só é levada a cabo quando o leitor aceita frequentar o espaço desse mesmo “jogo social”, afinal, nas palavras de Barbey d’Aurevilly, “os artistas escrevem para seus pares ou pelo menos para aqueles que os compreendem”.
As composições literárias, nesse contexto especial, viabilizam-se justamente como o meio pelo qual aquelas experiências não percebidas ou até evitadas podem ser resgatadas a fim de adquirirem voz e relevo, sobretudo quando se propõem a ser um retrato do real de que o próprio sujeito é participante sem se dar muita conta. Nesse engajamento criativo, situa-se o romance “Capitães da Areia” (1937), de Jorge Amado (1912-2001), um dos escritores brasileiros mais prestigiados dentro e fora do país.
Para o crítico José Castello, dentro do panorama da nossa literatura, não é exagero dizer que “Jorge Amado foi o inventor do Brasil moderno”. Autor de uma linguagem fluida “que seduz e sai escancarando portas”, “oralizante e brasileira”, no dizer de Ana Maria Machado, ele soube fazer os tipos sociais nacionais mais peculiares saltarem naturalmente da realidade à ficção. Em “Capitães da Areia”, por exemplo, o expediente narrativo traça um quadro da miséria urbana e mostra as consequências do abandono e da marginalidade na vida de crianças e de adolescentes nas ruas da cidade de Salvador.
O grupo de meninos autodenominado os Capitães da Areia vivia, “sob a lua”, num velho trapiche antes “povoado exclusivamente pelos ratos”. Eram “moleques de todas as cores e de idades as mais variadas”, vestidos de “farrapos”, “sujos”, “semiesfomeados”, “agressivos”, os verdadeiros “donos da cidade”, classificados pela imprensa local como “criminosos precoces”, visto que praticavam furtos, invasões, violências e abusos sexuais sem remorsos e sem o temor das leis. Liderados por Pedro Bala, o destemido garoto que ganhou um talho no rosto numa luta contra o antigo líder, os numerosos Capitães não eram intimidados por autoridades ou pessoa alguma. Ao contrário, impunham deliberadamente a própria vontade.
Embora entre eles as histórias de vida fossem diversas, possuíam identidades comuns: a orfandade sem perspectiva, a liberdade das ruas como o maior bem, o prazer pela malandragem, a lealdade ao grupo e o amor à cidade e à condição a que estavam submetidos. A pobreza não lhes era índice de tristeza ou de autocomiseração. Ainda que privados de uma criação ao lado de uma família tradicional, que lhes legaria padrões igualmente tradicionais, para eles, “não se vive inutilmente uma infância entre os Capitães da Areia”, porque, ao deixar o bando, não se pode abandoná-lo indelevelmente no coração, mesmo quando “se vai ser um artista e não um ladrão, assassino ou malandro”.
Nesse sentido, conforme pontua Álvaro Cardoso Gomes, não é possível afirmar que, a rigor, haja um enredo no romance, pois a história é conduzida “em função dos destinos individuais de cada participante do bando”, dos sonhos que habitam a mente de alguns. Conquanto se perceba uma linearidade temporal nos fatos, na passagem sequencial dos dias, dos meses e dos anos, os episódios, os capítulos, são quadros encerrados em si mesmos e exibem aventuras diferentes vividas pelos Capitães, como a invasão da delegacia para salvar a imagem de Ogum, a montaria no antigo carrossel de luzes, o momento da chegada da epidemia de bexiga (varíola) ou a fuga de Pedro Bala do Reformatório. Nesse ponto, segundo Cardoso Gomes, também reside a modernidade do texto: está no rompimento do convencionalismo narrativo, na independência dos registros, na maleabilidade da trama.
No entanto, não deixa de haver organização em “Capitães da Areia”, que começa com um recorte jornalístico: após a publicação da notícia do assalto à residência do Comendador José Ferreira, cartas de leitores representam o temor e a indignação ao ato e à impunidade ao bando. Manifestam-se o chefe de polícia, o diretor do Reformatório, o Juiz de Menores, Padre José Pedro e uma mãe costureira. Em seguida a essa inusitada apresentação, nas três partes subsequentes, aos poucos aparecem os meninos, todos personagens planos de acordo com a classificação de E.M. Forster, pois “são constituídos ao redor de uma única ideia ou qualidade”.
Pedro Bala, por exemplo, o líder, nunca deixou de lutar pelos demais e pela causa dos pobres, sobretudo depois de descobrir que o pai fora líder grevista e morrera com um balaço, defendendo a causa operária nas docas. Sem-Pernas, o garoto coxo e espião do grupo, no fundo queria a felicidade e a fuga daquela miséria, mas passava-se sempre por um bom menino perdido para entrar nas casas das famílias e ser o olheiro dos lugares escolhidos para os assaltos, não deixando a sua fama de malvado. Pirulito era magro e alto, de cara seca, o único que levava a sério as pregações de Padre José Pedro e que, por isso, tinha propensão à vida religiosa. Professor, conselheiro de Pedro Bala, o único que lia entre eles, era artista e talvez fosse aquele “que tivesse certa consciência do heróico das suas vidas”. João Grande, o mais alto e mais forte, segundo no comando, tinha a “carapinha baixa”, “músculos retesados” e desejava ser marinheiro. Volta Seca era o sertanejo afilhado de Lampião que sonhava unir-se à luta dos cangaceiros. Gato era o malandro conquistador que gostava da elegância e mantinha relações diárias com a prostituta Dalva.
Alçados à condição de homens antes do tempo pelas circunstâncias cruéis das ruas, em meio ao sofrimento, à sexualidade prematura, ao abandono e à violência, observa-se, em certa medida, espaço para a humanidade entre os meninos do trapiche e para, conforme coloca Cardoso Gomes, a “ironia à ganância e ao egoísmo” dos ricos. A proteção ao doente Almiro, a sensibilidade de Sem-Pernas ao ser acolhido pela família burguesa, a ida voluntária de Boa-Vida ao lazareto e a “gargalhada larga, ruidosa e livre” dos assaltantes como “um hino ao povo da Bahia” são lampejos de lirismo dentro da bruta realidade retratada. E a chegada de Dora aos Capitães da Areia representa o componente poético definitivo ao que parecia se encaminhar para a perdição. Ela fez-se mãe, irmã, noiva e esposa para ajudar cada qual a encontrar o próprio caminho. Em seguida, tornou-se o primeiro caso de mulher a “virar estrela depois de morta”, uma “estrela de longa cabeleira loira”.
Longe de ser mero espetáculo, ou paradigma da exclusão social, a ação criminosa dos Capitães, mesmo em defesa de uma liberdade constantemente ameaçada, enseja uma análise sob a ótica do questionamento feito por Padre José Pedro, quando confrontado pelo Cônego: “Que culpa eles têm? Quem os ensina? Que carinho eles têm?”. O único personagem que soube compreendê-los também foi o único a indicar um caminho seguro para a verdadeira transformação.